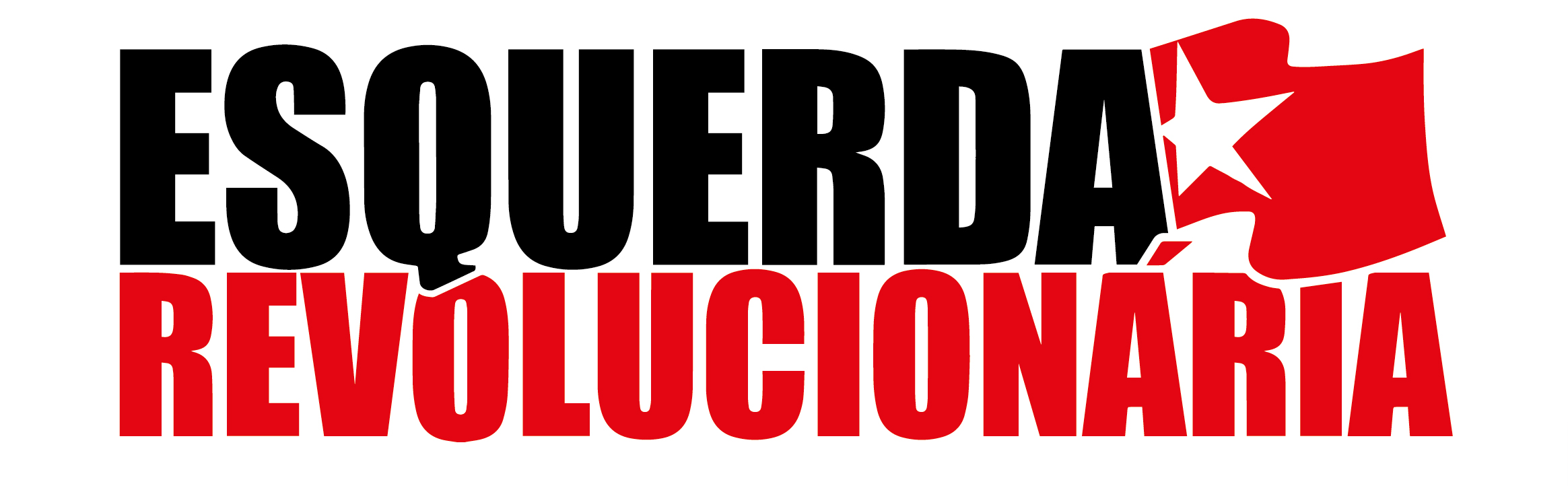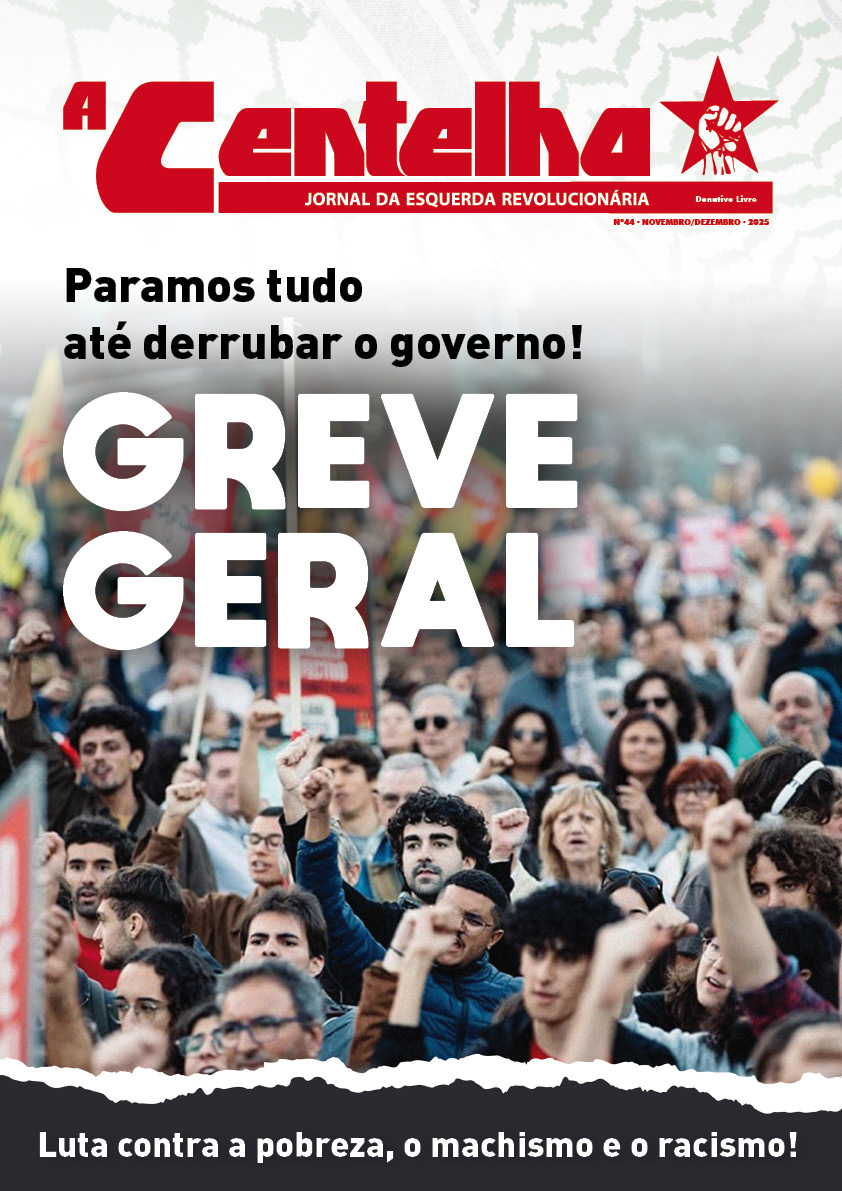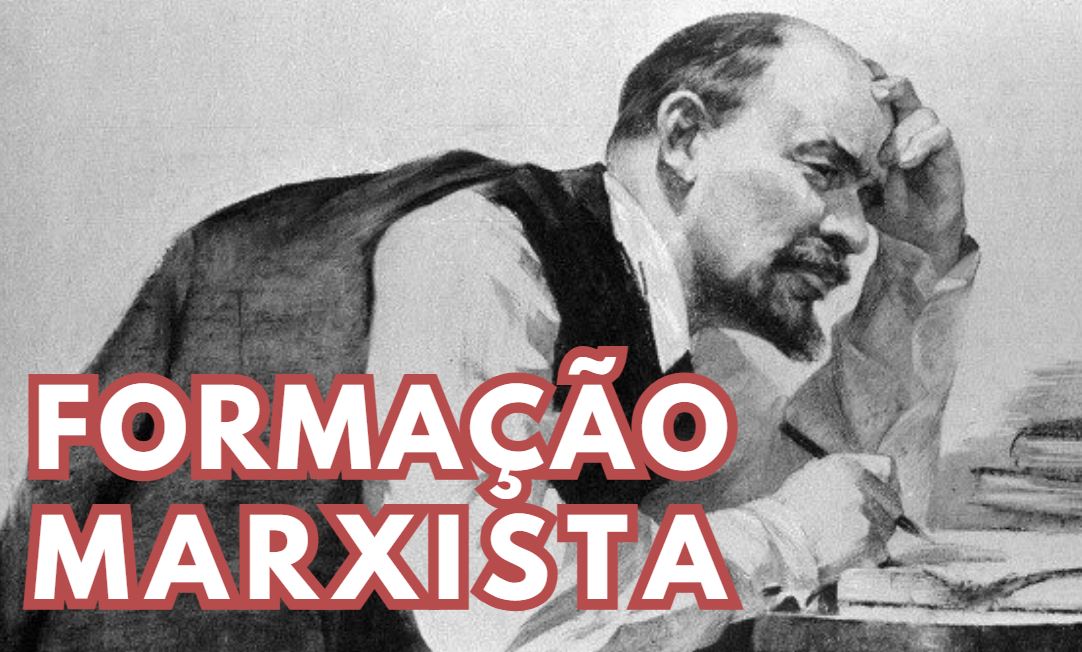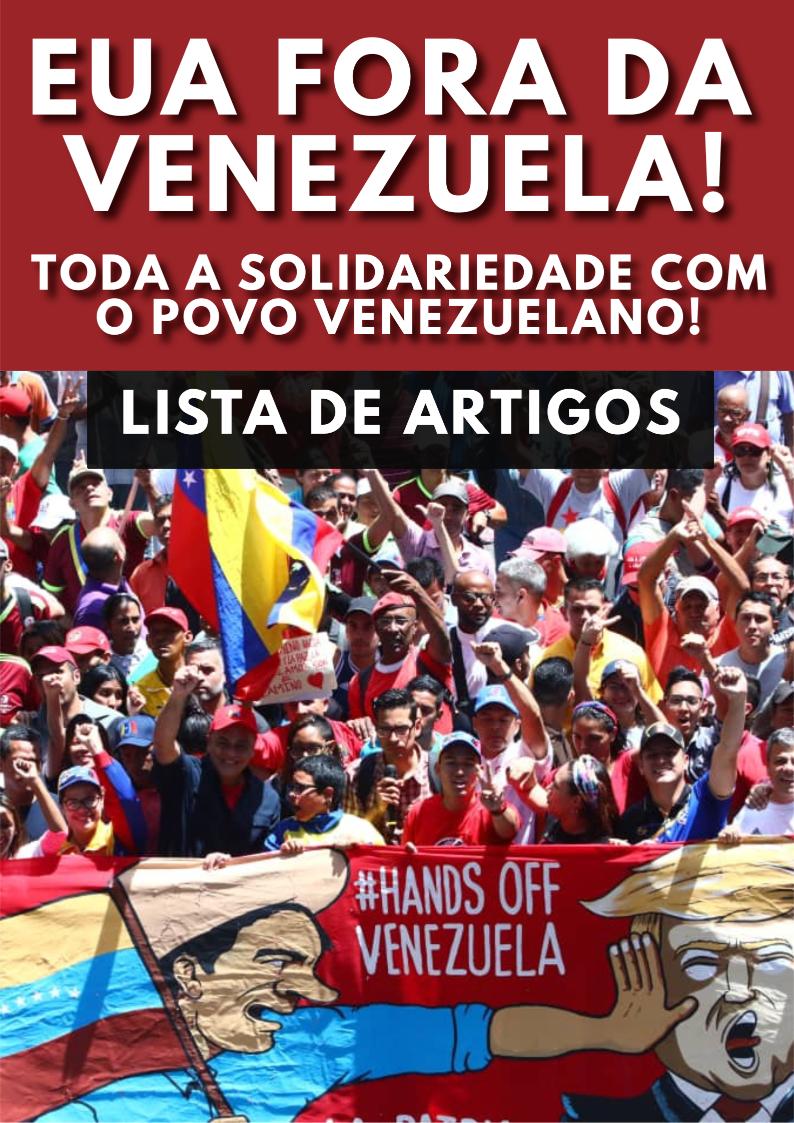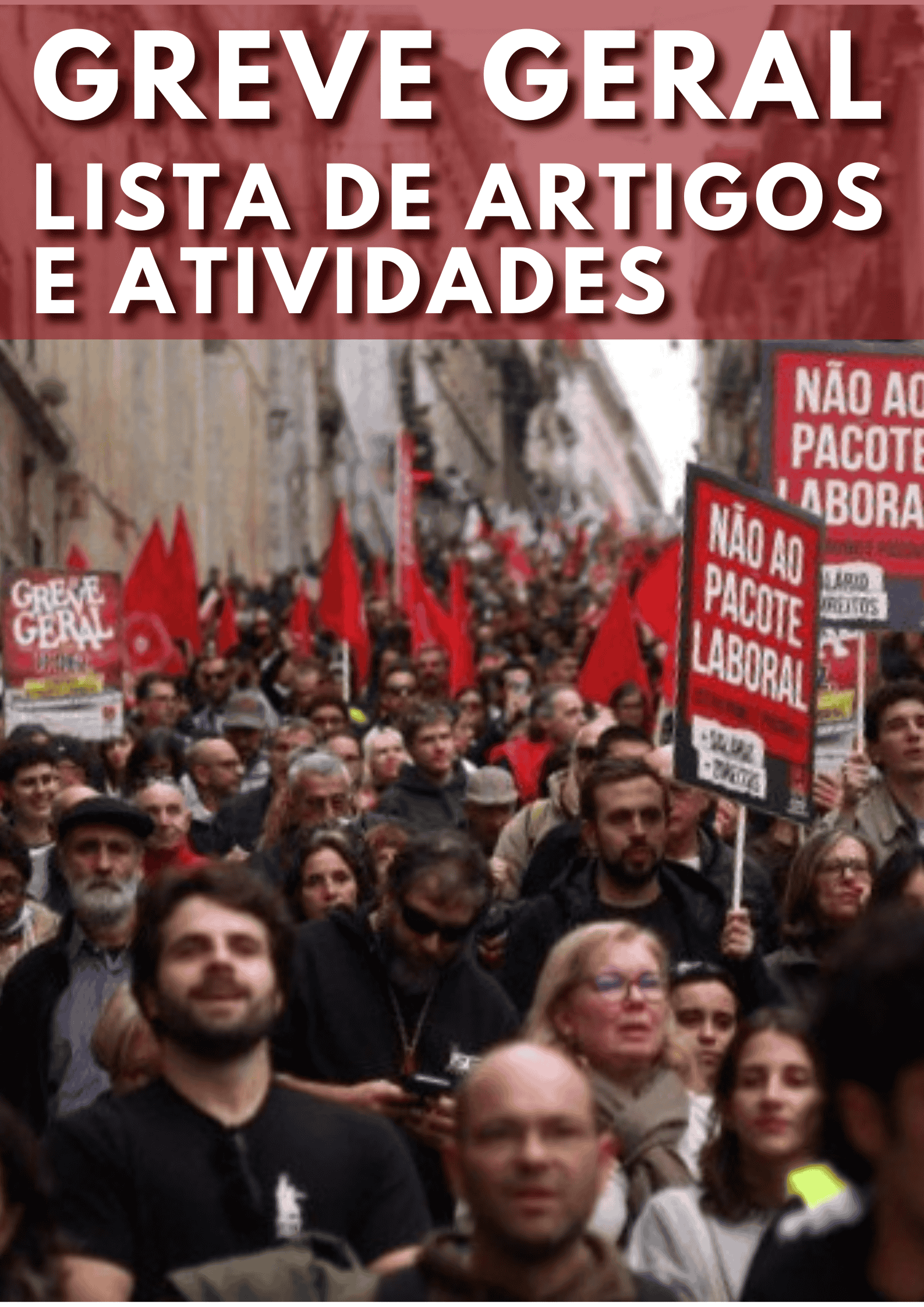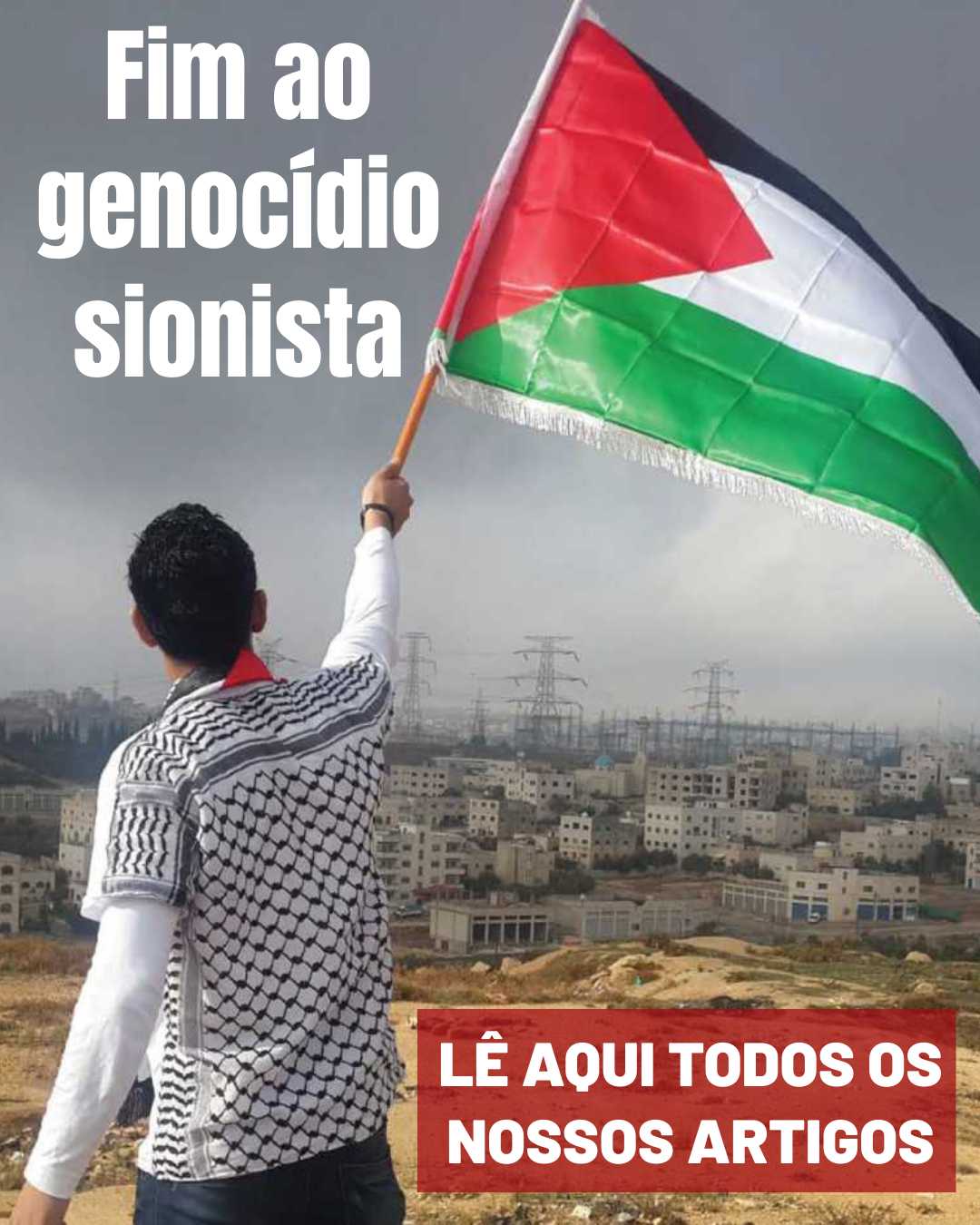Uma análise marxista da situação económica mundial
É difícil estar consciente da transformação dramática que a História Mundial está a sofrer. A declaração de guerra económica de Trump contra a China, com sanções tarifárias sem precedentes de mais de 150%, a sua arrogância de bully contra os seus aliados ocidentais, a sua utilização de linguagem incendiária, obscena e intimidatória, os seus zigue-zagues, os seus avanços e recuos... todo este catálogo de decisões aparentemente caóticas desencadeou uma verdadeira desordem nos centros de poder.
A incerteza e a volatilidade dominam o tabuleiro económico e político, enquanto se multiplicam as vozes de especialistas que alertam para uma recessão iminente. Depois de dias históricos em que biliões de dólares se evaporaram das bolsas estado-unidenses, europeias e asiáticas, com as suas empresas mais importantes a perderem capitalização em catadupa, e com as obrigações do tesouro estado-unidense a sofrerem vendas históricas e as taxas de juro a comprometerem a viabilidade das finanças públicas, poucos se atrevem a prever como isto pode acabar.
Há quem pense que o inquilino da Casa Branca está a mostrar grande força e determinação para impor o MAGA, mas se ignorarmos a grandiloquência do espetáculo, por detrás destas sanções há, acima de tudo, um sinal de desespero. O recuo do poder dos Estados Unidos é tão visível, e tem vindo a aprofundar-se a cada passo dos acontecimentos, que o inquilino da Casa Branca pensa que só à força poderá defender a supremacia global perdida. Mas a coerção e a violência, por si só, não farão com que a indústria estado-unidense regresse à posição hegemónica de que gozava há cinquenta anos.
O facto de o Governo chinês ter respondido com um contra-ataque contundente e de os seus porta-vozes terem garantido que se manterão firmes perante esta provocação é uma medida do desastre em que se encontra a economia capitalista e, em particular, a do bloco ocidental.
Poderia ser considerado uma loucura, mas não é: a lógica que está na base destes acontecimentos e decisões tem raízes profundas. As fundações da ordem mundial que Washington construiu após o colapso da URSS estão em crise irreparável e os muitos factores que lhe deram estabilidade durante décadas estão a ruir.
As formas tradicionais de dominação parlamentar, com a alternância de governos conservadores e sociais-democratas, os chamados "valores liberais", a diplomacia, o consenso, os "tribunais internacionais de justiça", os organismos de mediação e de diálogo, a ONU, a OMC, a paz social… todos esses meios de contenção, tão úteis para a governação, estão a ser destruídos, impulsionados pela estagnação geral das forças produtivas, pelo domínio parasitário do capital financeiro e por uma escalada militarista exacerbada pela entrada em cena de novas potências imperialistas.

As profundas mudanças na correlação de forças entre as potências estão por trás desta transformação. A ascensão da China desafia abertamente a liderança dos EUA, um facto absolutamente inquestionável para os estrategistas da Casa Branca que colocam Pequim como uma ameaça sistêmica aos seus interesses hegemónicos.
Mas a China não vem sozinha. Nos últimos dez anos, e sobretudo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, houve um salto de qualidade na formação de um bloco económico, militar e diplomático liderado pela China e pela Rússia que atrai novos aliados e cria mais complicações para o Ocidente.
Uma parceria poderosa que se tem confrontado nas mais diversas e abrangentes áreas, destruindo a influência dos EUA na Ásia, África, América Latina e Europa, e aumentando a dependência global do músculo económico chinês. O recuo do Ocidente também se faz sentir no domínio militar. E este não é um aspeto secundário.
A divisão imperialista é realizada através de trocas desiguais entre as nações mais avançadas e com maior produtividade do trabalho, e as menos desenvolvidas, que não podem competir devido ao seu baixo nível de tecnologia e desenvolvimento das forças produtivas. Mas o uso da força acaba por se revelar um fator crucial quando os acordos se tornam impossíveis. A guerra e o militarismo acompanham sempre a divisão imperialista. E o conflito na Ucrânia, onde estiveram em jogo as forças industriais, económicas e tecnológicas de cada um dos blocos envolvidos e o apoio social que conseguiram mobilizar, indica a superioridade crescente de Moscovo-Pequim.
A política é a economia concentrada, como Lenine costumava repetir. É impossível pensar que estas mudanças profundas na base material da sociedade não tenham um forte impacto na superestrutura política, nos partidos tradicionais e nas relações de classe.
A ascensão da extrema-direita nos EUA, na Alemanha, na Áustria, em França, em Itália, na Grã-Bretanha, no Estado espanhol, na Argentina ou no Chile está interligada com estes fenómenos, assim como a polarização social e política e as violentas oscilações na psicologia e no estado de espírito das massas. É claro que a falência política da esquerda reformista e as suas políticas capitalistas e militaristas são grandes responsáveis pelo cenário atual.
Os factores económicos que descrevemos têm uma forte influência na evolução política e vice-versa. A relação entre o ciclo económico e o ciclo político retroalimenta-se dialeticamente. Estabelecer um muro intransponível entre os dois não tem nada a ver com uma abordagem marxista. Do mesmo modo, os fenómenos sociais mais significativos, tal como na natureza, não se apresentam em estado puro. Há todo o tipo de distorções, variações, singularidades ou particularidades... mas o essencial é assinalar as tendências de fundo que estes refletem e as causas objectivas que os fazem emergir.
Trotsky, num grande artigo intitulado Bonapartismo e Fascismo, salientou que "a grande importância prática de uma orientação teórica correta é mais evidente em épocas de conflitos sociais agudos, de rápidas mudanças políticas ou de alterações abruptas da situação. Nessas épocas, as concepções políticas e as generalizações são rapidamente ultrapassadas e exigem a sua substituição total, o que é relativamente fácil, ou a sua concretização, precisão ou retificação parcial, o que é mais difícil. É precisamente nestes períodos que surgem necessariamente todo o tipo de combinações e situações transitórias, intermédias, que ultrapassam os padrões habituais e exigem uma atenção teórica contínua e redobrada. Numa palavra, se na época pacífica e "orgânica" (antes da guerra) ainda se podia viver à custa de algumas abstracções preconcebidas, na nossa época cada novo acontecimento levanta necessariamente a lei mais importante da dialética: a verdade é sempre concreta".

A globalização e o desenvolvimento das forças produtivas da China
Tendo por base que a verdade é sempre concreta, para compreender a nova ofensiva tarifária de Trump e as suas consequências imediatas para a economia mundial e para a luta de classes, é necessário situá-la no contexto acima analisado.
Há pessoas tacanhas que vêem a história como uma mera repetição de acontecimentos, uma sucessão de acontecimentos que são reiterados com esta ou aquela nuance superficial. Sem pensar o suficiente, afirmam que o que está a acontecer hoje mostra o triunfo do protecionismo e o fim da globalização. Para quê pensar de forma independente, e com as ferramentas oferecidas pelo marxismo, se certa imprensa económica nos dá tudo mastigado com fórmulas simples?
Conhecer a história, estudá-la seriamente e compreender os factores que desencadearam as grandes transformações sociais e políticas, é uma tarefa essencial, mas não fácil. Pegar no modelo de um facto histórico e cem anos depois colocá-lo nos dias de hoje e ver se encaixa ou não, tem muito pouco a ver com o marxismo. Não é dialética, é mecanicismo vulgar.
Em 1929, o mercado mundial era já uma realidade incontestável que dominava as economias nacionais, confirmando de forma brilhante as previsões do marxismo, ou seja, a tendência inerente às forças produtivas para ultrapassarem os limites impostos pela propriedade privada e pelas fronteiras nacionais. A luta inter-imperialista desenvolvia-se intensamente e, dez anos mais tarde, após uma guerra de tarifas sem quartel, desvalorizações competitivas e o colapso da produção, acabou por explodir violentamente na Segunda Guerra Mundial. Neste quadro histórico, houve também factores específicos que devem ser tidos em conta na análise do momento presente, uma vez que algumas das diferenças foram e são qualitativas.
Em primeiro lugar, havia a URSS, com a sua economia planificada e como fator de estímulo da luta de classes internacional, apesar da sua liderança estalinista. O medo da revolução socialista por parte das classes possuidoras acelerou a saída fascista. Em segundo lugar, a globalização e a interligação das relações económicas, embora muito importantes, estavam ainda longe do grau de interdependência que têm hoje.
É importante notar que, apesar de todas as teorias que estão a ser apresentadas no sentido de reivindicar o triunfo da desglobalização e a divisão da economia mundial em blocos, os dados não apoiam tais afirmações. Mesmo depois de todas as medidas tarifárias e restrições comerciais que foram aprovadas nos últimos dois anos, é totalmente questionável afirmar que estamos a passar por uma inversão substancial da globalização. O Financial Times, num artigo intitulado The myth of deglobalisation masks real changes (O mito da desglobalização mascara as mudanças reais), reconheceu que "não parece haver provas de uma mudança no sentido da desglobalização" e que a realidade é que "o resto da economia mundial está a tornar-se menos importante para a China, mas o país continua a ser cada vez mais importante para o resto da economia mundial".
Uma diferença substancial em relação a 1929 reside, entre outros, nestes dois aspectos relevantes. A globalização atingiu um ponto qualitativamente mais elevado em termos do volume dos fluxos internacionais de capital financeiro e da interdependência das cadeias globais de produção, fornecimento e comercialização de mercadorias. Um processo que ganhou um impulso formidável após o colapso da URSS e a restauração do capitalismo na China, e o consequente reforço da ordem imperialista dos EUA.
A questão que explica a virulência da luta atual e o desespero demonstrado pela administração Trump não é a sua rejeição da globalização, mas o facto de a liderança desta globalização já não pertencer a uma única potência, ou seja, aos EUA. Nas últimas duas décadas, a China tornou-se um colosso produtivo que exerce uma hegemonia tangível no comércio mundial. É por isso que o confronto está a assumir contornos tão brutais e difíceis de conciliar.

De acordo com os dados de 2023, a China representa 28,7% do volume da produção industrial mundial. Segue-se os EUA com 16,8%, o Japão com 7,5% e a Alemanha com 5,3%. Durante o período de cinco anos 2020-2024, o crescimento total do PIB da China foi de 23,4%, o dos EUA de 15,0%, o da UE de 12,2% e o do Japão de 6,0%.
A China é responsável por 20% do investimento mundial em investigação, desenvolvimento e inovação e as suas universidades formam 1,5 milhões de cientistas e engenheiros por ano, mais do que os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha juntos. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, sigla em inglês), no seu relatório “World Intellectual Property Indicators 2023”, revela que, no ano anterior, foram apresentados 3.457.400 pedidos de patentes em todo o mundo, dos quais 46,84% eram chineses, em comparação com 17,2% dos EUA e 8,4% do Japão.
Um estudo de 2024, intitulado China is the world's only manufacturing superpower: an outline of its rise, sublinha que "a industrialização da China não tem precedentes. A última vez que o "rei da indústria transformadora" foi destronado foi quando os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Os EUA demoraram quase um século a chegar ao topo; a mudança entre a China e os EUA demorou cerca de 15 a 20 anos. Em suma, a industrialização da China não tem comparação. [...] A China começou a corrida um pouco à frente do Canadá, da Grã-Bretanha, da França e da Itália. Ultrapassou a Alemanha em 1998, o Japão em 2005 e os Estados Unidos em 2008. Desde então, a China mais do que duplicou a sua quota global, enquanto a dos Estados Unidos diminuiu mais três pontos percentuais".
Enquanto nos principais países ocidentais os lucros das empresas têm sido canalizados para operações financeiras especulativas durante décadas e o investimento produtivo está a diminuir, a formação bruta de capital fixo (FBCF) da China tem vindo a aumentar de forma constante desde 1995. Em 2023, a FBCF da China representava 41% do seu PIB. No mesmo ano, era de 21% nos EUA, 21% na Alemanha, 23% em França e 18% na Grã-Bretanha. Na Rússia, em plena guerra na Ucrânia, representava 22% (dados do Banco Mundial).
A superioridade industrial da China é cada vez mais esmagadora, com um sector automóvel em constante expansão, em especial o dos veículos eléctricos. Em 2022, instalou mais robôs industriais do que o resto do mundo, 290.000 contra 263.000. Um estudo do Joint Research Center da UE sobre as "fábricas avançadas" (fábricas que combinam robótica, IA, impressão 3D e sistemas de dados dinâmicos) sublinha a enorme superioridade da China: 20.000 contra 7.500 nos EUA e 4.500 na Europa. O crescimento destas fábricas na China desde 2009 foi de 571%, em comparação com 130% na UE e 75% nos EUA.
Os dados publicados pelo Center for Economic Policy Research em janeiro de 2024 são claros: "Os Estados Unidos estão muito mais dependentes da produção industrial chinesa do que vice-versa [...] A China estava mais exposta aos factores de produção dos EUA antes de 2002, mas os Estados Unidos têm estado mais expostos desde então. Em 2020, os Estados Unidos estavam cerca de três vezes mais expostos à produção industrial chinesa do que vice-versa [...] isto mostra uma assimetria notável, histórica e global na dependência da cadeia de abastecimento entre a China e outros grandes países produtores. Os políticos podem querer dissociar as suas economias da China. No entanto, estes dados sugerem que essa dissociação seria difícil, lenta, dispendiosa e prejudicial, especialmente para os fabricantes do G7".
A propaganda ocidental insiste em descrever a China como uma economia de exportação incapaz de gerar um mercado interno forte, uma afirmação que não tem fundamento. O desenvolvimento das forças produtivas na China significou, tal como aconteceu na Grã-Bretanha e nos EUA, a formação de uma classe média crescente e de vastos sectores da classe trabalhadora que beneficiaram de aumentos salariais desconhecidos no resto do mundo. Em 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, os salários reais nas empresas públicas cresceram 5,5% e no sector privado 4,5%, com aumentos de mais de 13% no sector financeiro ou mais de 11% no sector mineiro, aumentando o rendimento real per capita em média 6,3%.
Atualmente, a China não é apenas a principal potência exportadora e credora do mundo, mas está a tornar-se um mercado decisivo para o resto das potências capitalistas venderem os seus bens e serviços.
O avanço da China só veio reforçar a globalização. O Lowy Institute, por exemplo, refere que 128 países têm mais trocas comerciais com a China do que com os EUA e que o gigante asiático gastou mais de um bilião de dólares em infra-estruturas em mais de 140 países! Na última década, a China tornou-se um exportador líquido de capitais para o mundo, com os seus investimentos no estrangeiro a atingirem um recorde de 162,7 mil milhões de dólares em 2023.

A política de sanções ocidentais contra a Rússia expôs ainda mais o avanço da globalização sob o domínio chinês. Não só não conseguiram isolar Putin, que foi sempre apoiado pela China, como este pacote de retaliação se tornou um boomerang contra os EUA, acelerando a crise do dólar.
O comércio entre a China e a Rússia passou a ser efectuado numa percentagem muito elevada em yuan, e outras potências, como a Arábia Saudita, um aliado histórico dos EUA, assinaram um acordo retumbante com a China para comprar parte do seu petróleo em yuan em troca de esta moeda ser utilizada na compra de produtos chineses. Dia após dia, a lista de países (Brasil, Irão, Paquistão, Nigéria, Argentina, Turquia...) que aderem a acordos semelhantes aumenta[11].
Quem semeia ventos, colhe tempestades
Segundo dados do portal económico Statista, "em 2024, a economia da China representava mais de 19% do produto interno bruto mundial ajustado à paridade do poder de compra (PPC). Com este valor, a China volta a ser a maior potência económica mundial, ultrapassando mesmo os Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar com uma quota de 15,2%".
Para aqueles que falam com tanta ligeireza da desglobalização, é preciso dizer que o comércio mundial registou um recorde histórico em 2024, com trocas no valor de 33 biliões de dólares, impulsionado por um crescimento de 7% nos serviços e de 2% nos bens, e tudo isto tendo em conta que já existiam medidas proteccionistas significativas por parte dos EUA, para além das sanções impostas à Rússia.
Tudo isto revela a força exportadora da China e a sua capacidade de adaptação. Em 2022 — para citar os dados mais completos publicados até à data — o fosso em relação aos seus concorrentes imediatos voltou a aumentar: a China exportou bens no valor de 3,59 biliões de dólares, em comparação com 2,06 biliões de dólares dos EUA, 1,65 biliões de dólares da Alemanha, 746,92 mil milhões de dólares do Japão, 656,93 mil milhões de dólares de Itália e 617,82 mil milhões de dólares de França.
Portanto, o impasse económico em que se encontram os EUA não foi criado num ano, nem em cinco, nem em duas décadas. Trata-se de um processo que começou em meados dos anos 1990 e que, paradoxalmente, foi alimentado pelos "êxitos políticos" que o imperialismo estado-unidense obteve com o colapso do estalinismo, o desaparecimento da URSS e o restabelecimento do capitalismo na Rússia e na China.
A incorporação de centenas de milhões de trabalhadores no mercado mundial facilitou uma nova divisão do trabalho e oportunidades colossais para o capital ocidental investir nesses países, obtendo retornos inimagináveis nos EUA e na Europa. A febre da deslocalização industrial, que levou a milhões de despedimentos, tomou conta do capitalismo estado-unidense e europeu, com consequências que são visíveis atualmente. A deslocalização deu lucros astronómicos às grandes multinacionais, que, longe de os investirem no desenvolvimento das forças produtivas dos EUA, da Grã-Bretanha ou da França, se dedicaram maciçamente a insuflar a bolha especulativa, induzindo a financeirização absoluta dos mercados, agindo de forma parasitária, comprando a dívida pública aos montes e recomprando as suas próprias ações para estimular a valorização bolsista.
A decadência e o parasitismo deste modelo foram expostos durante a Grande Recessão de 2008, que abalou o sistema financeiro dos EUA e a economia global. Desde então, o processo tornou-se mais agudo e generalizado.
A China saiu praticamente ilesa da Grande Recessão e, mais tarde, da Pandemia, fortalecendo-se como potência produtiva e não como colónia fornecedora de mão-de-obra barata e de produtos de baixa qualidade e baixo valor acrescentado. A transferência de tecnologia para a China nestas décadas foi formidável porque era do interesse das multinacionais ocidentais, que construíram gigantescas fábricas no seu território, e porque, e isto é significativo, o regime capitalista de Estado e a burocracia do PCC actuaram conscientemente, investindo uma gigantesca massa de capital no desenvolvimento de novos meios de produção e de transporte, numa indústria tecnológica sem paralelo, em estaleiros navais, fábricas de aço e alumínio, numa vasta rede de oleodutos, na exploração de terras raras, na construção de novas cidades, num sistema de saúde que fez a diferença durante a pandemia...

O seu poder de exportação permitiu-lhe acumular um excedente comercial estratosférico com o qual inundou todos os continentes com investimentos e, apesar dos desequilíbrios óbvios que carrega, como uma dívida pública muito elevada, a exposição constante à sobreprodução e uma exploração implacável da força de trabalho, sem sindicatos e organizações independentes da classe trabalhadora... demonstrou que a singularidade com que enfrentou a transição para o capitalismo lhe dá sérias vantagens sobre os seus principais concorrentes. É o contraste entre um capitalismo vigoroso e ascendente e um capitalismo na sua fase senil.
O regime capitalista de Estado chinês não é a URSS, mas a burocracia ex-estalinista do PCC aprendeu muito com o caos destrutivo dos anos de Yeltsin. A direção das operações económicas essenciais foi concebida de forma centralizada, e a burocracia, como parte da nova classe dominante burguesa que partilha privilégios e fortunas com muitos bilionários do sector privado, que também têm um cartão do partido (é obrigatório)... tem sido capaz, por vezes, de disciplinar os excessos e as ambições de algumas das suas figuras mais proeminentes.
Obviamente, há divisões e contradições no seio da burguesia chinesa que irão emergir quando as dificuldades se agravarem, mas, até à data, mantêm uma unidade de opinião bastante forte. Tudo o que foi dito não implica, de forma alguma, adoçar o regime chinês como um imperialismo amigo, ou uma sociedade socialista de mercado, como pretende a esquerda estalinista.
A China é uma potência imperialista, com uma desigualdade dilacerante e grandes conflitos latentes que ainda não se manifestaram, enquanto o crescimento prosseguir a bom ritmo. Mas os factos são claros: das 500 pessoas mais ricas do mundo, segundo o Bloomberg Billionaires Index, 81 são chinesas e acumulam uma fortuna de 1,1 biliões de dólares. Este número só fica atrás dos Estados Unidos, onde 162 bilionários têm uma fortuna total de 3,4 biliões de dólares. De acordo com outra classificação, a Hurun Global Rich 2021, a China tem mais de 1.000 multimilionários, o maior número do mundo.
Voltando a outro aspeto fundamental. O mercado interno chinês está a adquirir enormes dimensões e tornou-se um espaço-chave para as principais empresas industriais dos EUA e da Europa, para as suas empresas automóveis, agro-alimentares, mineiras, têxteis, de luxo... Ao contrário dos EUA no seu avanço como potência imperialista, que primeiro construiu um poderoso mercado interno para depois construir as suas aventuras externas, o processo histórico na China, graças ao modelo de capitalismo de Estado centralizador, foi vertiginoso e sublinha a validade da teoria do desenvolvimento desigual e combinado: a China queimou etapas muito rapidamente, utilizando o investimento ocidental para estabelecer uma base produtiva eficiente, acumular um excedente impressionante e, ao mesmo tempo, construir um mercado interno gigantesco que rivaliza cada vez mais com o mercado estado-unidense em termos de poder de compra.
A classe dirigente dos EUA enfrenta um grande desafio. Trump não quer que aconteça o mesmo que no seu primeiro mandato. Em 2016, o primeiro ano da sua primeira presidência, o défice comercial dos EUA ascendeu a 502,3 mil milhões de dólares e com a China atingiu os 347 mil milhões de dólares. Em 2020, ano em que perdeu as eleições, o défice comercial dos EUA atingiu 678,74 mil milhões de dólares e com a China foi de 310,8 mil milhões de dólares.
No que diz respeito à União Europeia, o défice dos EUA aumentou de 151,575 mil milhões de dólares em 2017 para 182,579 mil milhões de dólares em 2020. Sob a presidência de Joe Biden, subiu para um recorde de 235,571 mil milhões de dólares em 2024.
Regressando à China. Em 2024, os EUA importaram 438.947 milhões de dólares de bens do gigante asiático e exportaram 143.546 milhões de dólares de mercadorias, com um défice comercial resultante de 295.402 milhões de dólares. Embora o défice tenha sido reduzido desde 2016 em mais de 50 mil milhões de dólares, os valores continuam a ser demasiado elevados e revelam o problema orgânico de dependência da economia dos EUA em relação à China.
A experiência destes oito anos deixa um amargo de boca. Nem as indústrias regressaram a solo estado-unidense, nem os empregos bem remunerados se multiplicaram, nem o declínio comercial foi contido. Em 2024, a balança comercial global dos EUA registou um défice de 918,42 mil milhões de dólares, mais 17% do que em 2023.

A guerra comercial de Trump e as suas múltiplas consequências
No início do século XXI, o domínio comercial dos EUA era indiscutível. Mais de 75% dos países tinham Washington como principal parceiro comercial, em comparação com uma minoria com Pequim. Em 2020, a posição inverteu-se e a China tornou-se, de longe, o maior exportador mundial. Como resultado, a China acumulou gigantescas reservas de divisas que, em janeiro de 2024, ascendiam a mais de 3,2 biliões de dólares.
E é isto que explica o atual dilema em que se movem a Administração Trump e a burguesia estado-unidense.
Após meses de ameaças, anúncios, adiamentos e rectificações, Trump lançou o seu plano a 2 de abril, pomposamente apelidado de "Dia da Libertação". A decisão representa, aparentemente, o maior golpe contra o sistema multilateral de comércio e de regulação das finanças internacionais, em vigor desde os acordos de Bretton Woods de 1944. Mas este desafio, com o passar dos dias, revelou o seu verdadeiro objetivo: pôr a China de joelhos com taxas aduaneiras de 145%.
Se o governo dos EUA levasse os seus planos até ao fim, as consequências seriam incalculáveis. O encerramento das fronteiras dos EUA aos produtos chineses e, vice-versa, o bloqueio dos capitais e dos produtos estado-unidenses na China teriam um efeito devastador e conduziriam a uma grave recessão mundial. No entanto, pensar que este é o único cenário, ou o mais provável, é considerar demasiado levianamente as implicações para a administração Trump, que está claramente a partir de uma posição de fraqueza e não de força.
Como descrevemos neste artigo, a hegemonia global que os EUA exercem há oito décadas está a cair a um ritmo crescente, e a sua classe dominante enfrenta a perspetiva de começar a perder os lucros exorbitantes acumulados através do papel dos EUA como primeira potência imperialista.
É evidente que uma boa parte da burguesia estado-unidense não partilha as últimas medidas de Trump. Prova disso são as duras críticas dos responsáveis da Goldman Sachs e da J.P. Morgan, ou os ataques que as suas medidas provocaram nos grandes think tanks empresariais estado-unidenses mas, sobretudo, o colapso das bolsas estado-unidenses e o aumento dos juros a pagar pelas obrigações do Tesouro obrigaram finalmente Trump a adiar por 90 dias o pacote de tarifas que pretendia impor à UE, parceiros históricos no bloco ocidental. Foi um primeiro revés, mas em poucos dias seguiram-se outros.
Trump pode parecer estar a agir como um louco, mas não está. Tudo o que ele faz aponta para a gravidade do impasse a que chegou a classe dominante dos EUA. Neste momento, os capitalistas mais críticos de Trump são incapazes de definir uma estratégia alternativa para travar e inverter o declínio dos EUA. E esse vazio está a ser preenchido pela demagogia de Trump, que arrasta atrás de si milhões de médios e pequenos investidores, tanto empresários como profissionais de classe média, comerciantes ou rentistas de todo o tipo, habituados a ganhar muito dinheiro nos mercados financeiros estado-unidenses altamente especulativos (bolsa, matérias-primas, derivados, dívida pública, etc.) e que vêem os seus sonhos de riqueza infinita ameaçados pela ascensão imparável do capitalismo chinês.
É esta camada social que alimenta o sonho de um ressurgimento industrial dos EUA sobre o exercício ilimitado do seu poder imperial. Não são os Estados Unidos que, com a ajuda de Netanyahu, demonstram que podem varrer do mapa a população palestiniana com uma selvajaria e uma desumanidade que fazem lembrar o nazismo? Porque não aplicar esse poder para restabelecer os anos dourados do capitalismo ianque?
Infelizmente para este sector, a base material da hegemonia estado-unidense desapareceu, para nunca mais voltar. Em 1945, os Estados Unidos eram a grande potência industrial do mundo capitalista, com a Europa Ocidental e o Japão devastados pela guerra. Esta situação permitiu a Washington fazer do dólar a moeda de reserva e de troca do mundo. Em consequência, os Estados Unidos drenaram as riquezas de todo o mundo capitalista, especialmente dos antigos países coloniais, para sustentar generosamente as suas finanças públicas e o seu enorme défice fiscal, e para inaugurar uma era de expansão dos seus monopólios privados.
Tudo isto foi possível e durou tantas décadas porque, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo mundial registou um crescimento sem precedentes. O capital estado-unidense dominou o mundo, mas os capitalistas de outros países, especialmente da Europa Ocidental, e também a classe trabalhadora dos países avançados, receberam a sua parte da riqueza global graças às políticas do pacto social, que desmantelaram as crises revolucionárias em França, Itália e noutros países, e que foram aumentadas pelo investimento e inovação estado-unidenses.
Mas tudo isto acabou em meados dos anos 1990, quando os rendimentos começaram a baixar devido à sobreprodução e o modelo neoliberal foi imposto para dar início a uma nova fase de acumulação capitalista, eliminando o emprego de qualidade, os salários dignos e o Estado social.

Esta dinâmica foi reforçada após o colapso da URSS, abrindo os mercados à financeirização e à compra massiva de dívida pública. A Grande Recessão de 2008 revelou os limites deste "círculo virtuoso" de lucros massivos nas bolsas e expôs a crise de sobreprodução que o capitalismo mundial estava a atravessar. Desde então, a riqueza da burguesia estado-unidense tem sido cada vez mais derivada da especulação financeira, à custa do empobrecimento da sua própria classe trabalhadora e do resto do mundo.
A especulação financeira nos EUA é galopante (ver os casos da Tesla, Intel ou Nvidia) e ameaça constantemente as bases produtivas da sua economia. A produtividade do trabalho nos EUA tem vindo a crescer a um ritmo cada vez mais lento desde há anos, uma consequência do fraco investimento que acrescenta valor real à produção.
Mas Trump e os seus apoiantes, incluindo uma parte significativa da elite financeira e tecnológica dos EUA, acreditam ter descoberto a receita para lidar com este declínio. Se o sistema global de comércio e finanças que os EUA impuseram após a Segunda Guerra Mundial acabou por criar as condições para a expansão do capitalismo de Estado chinês, ele terá simplesmente de ser dinamitado.
Falsificando sem pudor a história dos últimos 80 anos, Stephen Miran, presidente do Conselho de Conselheiros Económicos de Trump, expõe num documento recente a estratégia a seguir. Na sua opinião, foram os Estados Unidos, com a sua política de dólar forte, que pagaram generosamente o desenvolvimento industrial do resto do mundo. Segundo esta lógica, quando os Estados Unidos imprimiam dólares sem qualquer contrapartida real e exportavam a sua inflação, estavam a fazer-nos um grande favor e o resto do mundo vivia da riqueza criada pelas empresas estado-unidense.
A consequência é clara e Trump coloca-a sem rodeios: o mundo inteiro tem andado a roubar os EUA e é altura de começarem a retribuir.
Mais tarifas para industrializar os EUA?
As tarifas de Trump, apesar de terem sido adiadas por 90 dias, exceto as que afetam a China, destinam-se a criar a máxima tensão e a mergulhar em circunstâncias extremas as empresas e os países mais dependentes da exportação dos seus produtos para os EUA. O Quénia, Madagáscar, a Costa do Marfim, o Camboja, o Vietname e mesmo a Indonésia poderão em breve ver-se confrontados com o encerramento de fábricas e a ruína de dezenas de milhares de explorações agrícolas se não aceitarem condições de negociação draconianas. Os governos e as empresas afetadas teriam de oferecer, pelo menos inicialmente, uma compensação aos EUA para que as suas taxas fossem atenuadas.
Trump tem a experiência de fortes tarifas impostas à UE no seu primeiro mandato. Após três meses de negociações à porta fechada, o então presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, conseguiu anulá-las em troca de um aumento significativo das compras de gás, soja e armamento aos EUA e do adiamento por vários anos da regulamentação sobre as emissões poluentes dos veículos a motor, que afetava particularmente os automóveis estado-unidense.
Mas as circunstâncias mudaram muito. Como vimos com as sanções contra a Rússia, uma grande parte dos países do mundo já não se ajoelha docilmente perante as imposições dos EUA. Parece, portanto, inevitável que, nos próximos meses, comecemos a assistir a um sólido reforço dos laços económicos e comerciais da China com todos os países espezinhados por Trump.
É importante notar que, para o comércio mundial, passar sem o gigantesco volume de compras dos EUA é inviável num futuro próximo. Com importações anuais de quase 3 biliões de dólares, os EUA são de longe o maior importador mundial. Mas este facto cria uma dependência mútua. Embora seja difícil para os países exportadores encontrarem um mercado alternativo aos EUA a curto e médio prazo, também é verdade que a indústria estado-unidense não tem capacidade para substituir as importações pela sua própria produção.
A melhor prova destas importantes limitações é a decisão de Trump, a 11 de abril, de isentar totalmente de tarifas os telemóveis, computadores, chips, discos rígidos e outros componentes electrónicos, bem como a maquinaria necessária para o fabrico de semicondutores, mesmo que sejam provenientes da China. Os interesses das grandes empresas estado-unidense, como a Apple, a Intel, a Dell e muitas outras, acabaram por prevalecer e Trump foi forçado a recuar perante o perigo de arruinar as suas empresas de referência.
É previsível que nas próximas semanas ou meses estas isenções sejam alargadas à medida que se confirmem as dificuldades da indústria estado-unidense. Substituir pela produção nacional um volume tão extraordinário de bens essenciais para as suas cadeias de produção e que são importados não é uma tarefa que possa ser feita com um simples clique.

Como sair deste atoleiro? Trump espera fazê-lo obrigando as empresas estrangeiras a baixar os seus custos e quebrando a unidade interna de blocos como a União Europeia. É por isso que apoia um movimento global de extrema-direita para assumir o controlo dos principais governos para mais facilmente os poder condicionar e gerir, e no processo criar as condições políticas mais adequadas para enfrentar com sucesso a radicalização da luta de classes com medidas totalitárias e policiais. Mas isto, há que recordar, não resolve os problemas imediatos.
A pretensão de transformar os EUA numa máquina industrial de classe mundial é ótima no papel, mas torná-la realidade é muito mais complicado. Make America Great Again implica uma revisão completa do atual sistema industrial dos EUA e enormes investimentos em capital e tecnologia que minariam os lucros rápidos e multimilionários oferecidos pela economia de casino de Wall Street. Garantir retornos atractivos para o investimento produtivo não é assim tão fácil, a menos que haja uma política de financiamento estatal massivo, por assim dizer, um regresso a uma variante trumpista do keynesianismo estatal. Mas não parece ser esse o plano do Presidente.
Tarifas desta dimensão sobre os produtos chineses dão, teoricamente, uma vantagem quantitativa à indústria estado-unidense. Mas isso é apenas em teoria. Para concretizar este potencial, é necessária vontade política e empresarial e um investimento massivo na atualização e melhoria das fábricas estado-unidenses, a fim de as tornar mais competitivas e de as emancipar dos fornecimentos chineses. Se isso não for feito, e levará muito tempo para ser implementado, estas tarifas levarão a um enorme aumento nos custos de produção e a uma espiral de inflação, que inevitavelmente se combinará com um mercado deprimido. O fenómeno da estagflação poderá alastrar e provocar também um terramoto de mobilizações sociais contra o trumpismo.
Por outras palavras, as vantagens de inundar o mercado dos EUA com produtos fabricados nos EUA também não são assim tão automáticas. Há um grande ponto de interrogação sobre este aspeto.
A tentativa de compensar as dificuldades encontradas, contando com a desvalorização do dólar para vender mais no mercado mundial, vai deparar-se com a retaliação do governo de Xi Jinping, que já respondeu com tarifas de mais de 120% sobre os produtos estado-unidenses, e com a possível reação da UE, que, devido à trégua de 90 dias, continua por conhecer.
Repercussões internas
Como explicámos em materiais anteriores, as novas tarifas de Trump significarão imediatamente que os consumidores estado-unidenses pagarão preços mais elevados pelos bens importados e que as empresas que precisam de comprar matérias-primas ou componentes para as suas operações no estrangeiro verão os seus custos aumentar significativamente e perderão competitividade nos mercados mundiais.
Estas consequências negativas serão multiplicadas pelos efeitos das medidas de retaliação que os países de todo o mundo adotarão contra os produtos estado-unidenses, e não se limitarão apenas ao aumento das tarifas. A China, por exemplo, para além de aumentar as taxas aduaneiras na mesma proporção que os EUA, adotará medidas adicionais, como a proibição da exportação para o mercado estado-unidense de materiais estratégicos para a sua indústria.
O ataque de Trump tem sido de tal ordem que a própria Reserva Federal alerta para o facto de os EUA e o resto do mundo poderem mergulhar numa nova recessão. E das fileiras do trumpismo, já surgiram vozes, lideradas por Elon Musk e vários senadores republicanos, que pedem o fim da guerra comercial, pelo menos com a União Europeia.
Sem dúvida, as manifestações massivas de 5 de abril contra Trump em mais de 1.100 cidades dos EUA também foram um fator importante para esta súbita mudança de opinião. A classe trabalhadora estado-unidense não está disposta a suportar o custo de políticas de guerra comercial destinadas apenas a proteger os imensos lucros dos multimilionários estado-unidenses, especialmente quando Trump acaba de aprovar um corte de impostos que poupará a esses multimilionários 4,5 biliões de dólares em impostos ao longo de 10 anos.
A agenda deste plutocrata não tem nada de anti-establishment. A sua demagogia populista esconde uma política agressiva de pilhagem das finanças públicas e de cortes profundos nas já magras prestações sociais recebidas pelo sector mais empobrecido da classe trabalhadora estado-unidense.
Sectores da classe dominante estado-unidense entendem que é prematuro provocar uma explosão social com consequências incalculáveis para o precário equilíbrio interno do capitalismo estado-unidense. Apesar das tentativas de Trump de lançar as sementes do racismo e do ódio aos imigrantes entre os sectores populares, a unidade da classe trabalhadora, reforçada pelas lutas dos imigrantes desde 2006, pela luta do Occupy Wall Street e do Black Lives Matter, pelas mobilizações de massas das mulheres, pela luta dos trabalhadores mais precários por um salário de 15 dólares por hora e pelo reconhecimento dos seus sindicatos e, mesmo apesar da vergonhosa capitulação do seu líder ao aparelho do Partido Democrata, pelo movimento liderado por Bernie Sanders, é notável e não foi varrido pelas manobras divisionistas do trumpismo.

A dívida estado-unidense, uma espada de Dâmocles
Embora Trump tenha o cuidado de não falar sobre isso, o risco principal e mais imediato para a economia dos EUA não é o défice comercial, mas a dimensão desordenada da sua dívida, tanto do sector público como das empresas privadas.
O défice orçamental dos EUA atingiu agora 6% do PIB e a sua dívida, de quase 35 biliões de dólares, representa 121% deste indicador. Até ao final deste ano, o pagamento dos juros desta dívida tornar-se-á a maior rubrica da despesa pública dos EUA, muito acima do seu orçamento militar.
Um relatório do Council of Foreign Relations de 2023 assinalava que, mesmo abrandando o seu ritmo de crescimento, a dívida pública dos Estados Unidos duplicará em 30 anos, o que tornará o pagamento dos juros extremamente difícil, para não falar do ónus que esses pagamentos representarão para o investimento produtivo.
O que acontecerá a esta enorme dívida se a guerra comercial desencadear uma recessão ou simplesmente um abrandamento do crescimento económico? Bem, é provável que as taxas de juro das obrigações a 10 anos subam ainda mais e que as vendas por parte dos detentores globais acelerem. Por outras palavras, os Estados Unidos terão de desembolsar mais capital para se financiarem, porque há dúvidas, muitas dúvidas, sobre a evolução da sua economia.
Mas, longe de se alarmarem, os estrategas económicos de Trump já conceberam uma saída magistral para este problema. O documento de Stephen Miran, já citado, apresenta uma "solução" radical para o custo insuportável da dívida. Uma vez que a dívida foi gerada por generosas contribuições dos EUA para o resto do mundo, cabe agora ao resto do mundo suportar os custos. Como? Convertendo a dívida nas mãos de detentores estrangeiros em dívida perpétua de baixo custo ou transformando-a em dívida de muito longo prazo (100 anos) a uma taxa de juro ridiculamente baixa. Isto é o equivalente a uma redução da dívida que os investidores estrangeiros teriam de aceitar de bom grado ou à força.
Para já, estes planos não passaram do papel e, embora não possamos excluir nada, uma saída deste tipo implicaria muito mais do que uma guerra comercial.
Aconteça o que acontecer nas primeiras escaramuças desta guerra comercial, Trump parece ter calculado mal os impactos transversais que as suas medidas comerciais terão na valorização do dólar e no seu papel de moeda de reserva e de moeda decisiva nas transacções financeiras e comerciais internacionais.
Os estrategas de Trump apostam na desvalorização permanente do dólar como medida para facilitar a tão desejada reindustrialização dos EUA. Um dólar mais barato favoreceria as exportações e o regresso progressivo dos investimentos estado-unidenses no estrangeiro aos EUA. Mas a desvalorização competitiva da moeda também é algo que os seus concorrentes podem fazer, e o governo chinês está bem ciente disso. Tudo isto se passou após o crash de 1929, e os resultados foram bastante lamentáveis.
Para além da impossibilidade radical de deslocalizar a produção para os EUA, que desde há várias décadas tem sido transferida para países com custos salariais mais baixos, uma desvalorização do dólar só pode agravar ainda mais os efeitos inflacionistas das novas tarifas e, assim, alimentar o descontentamento social generalizado que já existe nos EUA.
Quaisquer que sejam as cabalas monetárias que Trump e os seus estrategas possam sonhar, nenhuma dessas manobras pode resolver o problema básico do capitalismo estado-unidense. Por mais domínio que o dólar ainda mantenha nos mercados financeiros mundiais, por mais capacidade que a Fed mantenha para operar com as taxas de juro, nada pode mudar um facto indiscutível: o fosso entre a produtividade média dos trabalhadores chineses e a dos trabalhadores estado-unidenses está a diminuir a um ritmo cada vez maior.

As medidas de Trump podem criar e espalhar o caos, podem gerar imensos lucros a curto prazo para a oligarquia financeira dos EUA, mas o declínio do capitalismo estado-unidense, longe de ser amortecido, corre o risco de se aprofundar a uma velocidade imprevista.
Nas próximas semanas começaremos a ver as consequências mais imediatas da guerra comercial que Trump desencadeou. Poderemos saber, ao vivo e em direto, se o imperialismo estado-unidensetem reservas suficientes para fazer face ao terramoto que desencadeou, ou se esta guerra conduzirá a uma nova derrota e a um novo retrocesso, desta vez gigantesco, para a ordem mundial de Washington.